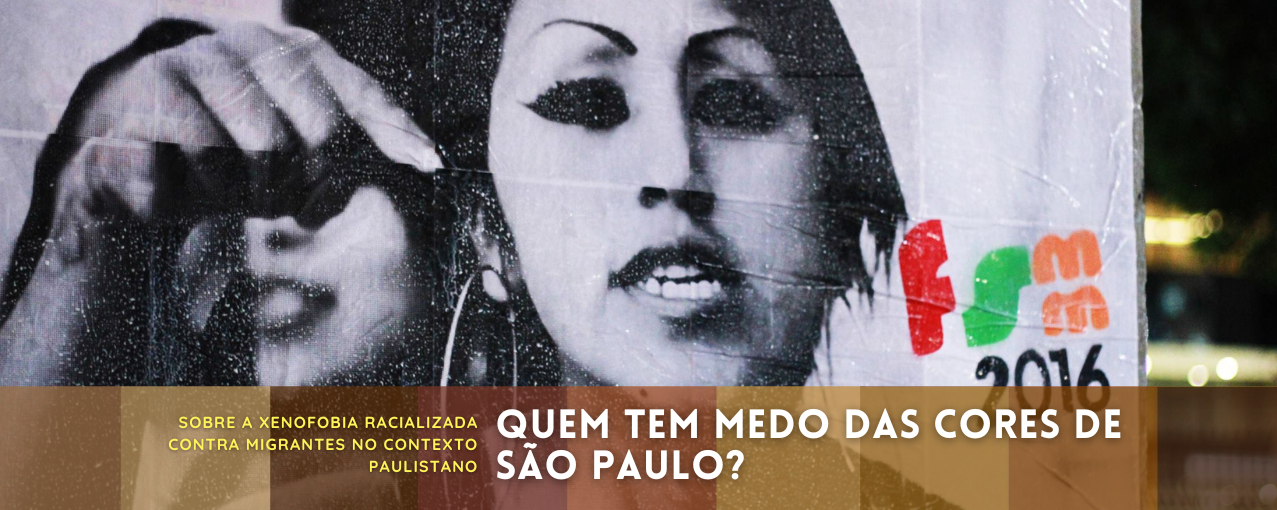Blog

Compartilhe
Mulheres e Migração: Mulheres migrantes e trabalho doméstico na derrocada da escravidão em São Paulo - avanços e possibilidades de pesquisa
O trabalho doméstico como objeto de pesquisa configura uma perspectiva recente no Brasil. Em meados de 1990, iniciou-se uma preocupação com o tema dentro dos estudos de história social do trabalho, assim como histórias das mulheres, da escravidão e do pós-emancipação. Há um empenho em compreender trabalhadores e trabalhadoras de forma ampliada e as suas atuações em variadas esferas a partir de recortes como gênero e raça. Além das contribuições da historiografia propriamente ditas, os diálogos com o presente têm peso: a temática ganhou relevância na mídia e no debate público através de projetos de lei e emendas constitucionais, que visam à regularização do regime de trabalho das domésticas, principalmente por meio da "Emenda Constitucional 72" em abril de 2013".[1]
Os estudos sobre o trabalho urbano exercido por mulheres na derrocada da escravidão requerem especificidades na categoria "mulheres": pretas, libertandas[2], livres e pobres, migrantes nacionais (vindas de outros estados ou do interior paulista) e internacionais, essas mulheres desempenhavam funções de trabalhos diferentes na malha urbana crescente. A historiadora Lorena S. Telles, por exemplo, em sua tese de doutorado defendida em 2011, estudou os contratos de trabalho domésticos na cidade de São Paulo nesse período. Segundo a autora, as profissões urbanas eram desempenhadas por variados tipos de mulheres e, em muitos casos – anunciavam os empregadores –, "Prefere-se estrangeira".[3]
Neste artigo, abordaremos algumas colaborações historiográficas sobre trabalho doméstico no período de introdução do trabalho livre em São Paulo que vislumbram possibilidades interessantes de pesquisa. Ao analisar os anúncios de trabalho em jornais da cidade, Telles afirma que a profissão "ama de leite" era desempenhada, majoritariamente, por mulheres negras e mulatas, ainda que houvesse esforços dos empregadores por contratar "amas de leite brancas" para a função.[4] As "quitandeiras de rua" eram profissões ainda mais comuns entre negras e mulatas. Segundo a historiadora Maria Odila da Silva Dias, essa era uma prática bastante comum entre as escravas e pretas forras, ainda no período de decadência da escravidão urbana[5].
A intensa busca por mulheres com profissão de "cozinheira" acaba por ocultar o desempenho de outras tarefas, tais como lavar roupas, engomar, limpar a casa e se preocupar com demais afazeres domésticos. Segundo Telles, em anúncios de emprego nos jornais, era comum que se lesse "Contrata-se como cozinheira e o que mais precisar".[6] Apesar de contar com uma maioria de mulheres mulatas e migrantes nacionais vindas do interior paulista nessa função, as mulheres brancas estrangeiras ocupavam também uma parcela dos cargos.
Já a profissão de "lavadeira" – além de ser desempenhada por mulheres de diversas situações, entre as quais muitas trabalhadoras estrangeiras –, foi fundamental à "sociedade da higiene", que as autoridades buscavam construir em São Paulo. Percorrendo longas caminhadas com trouxas pesadas e curtos prazos de entrega, as lavadeiras lavavam, passavam e engomavam. Telles afirma ainda que a introdução de tanques e redes de água em locais específicos da cidade (entre o final do século XIX e o início do XX) acabaram por enclausurar o trabalho que, anteriormente, era desempenhado à beira de rios.

As historiadoras Caroline Mariano e Lígya Souza investigam as permanências dos padrões femininos de moralidade e domesticidade na disciplinarização de trabalhadores livres em São Paulo, bem como as experiências de mulheres subalternas que escaparam aos modelos propostos pela religião e teorias científicas nesse mesmo período.
Ao delimitar o espaço doméstico como ideal e natural às mulheres, a dualidade "dona de casa" versus "mulher trabalhadora" esteve presente em setores governamentais e industriais da sociedade, evidenciando a crença de que a força de trabalho feminina seria inferior à masculina por sua falta de capacidade em adquirir conhecimento sobre atividades complexas.[7] Além disso, afirmam as autoras:
"(...) a política da grande imigração – ao preferir a entrada de famílias em detrimento de indivíduos sós – viabilizou a entrada de mulheres (esposas, filhas, mães, sogras e noras), contribuindo para o aumento da camada de mulheres livres e pobres em São Paulo."[8]
Nesse contexto, o serviço doméstico se configurou como um espaço de atividade remunerada de migrantes brancas, nacionais ou estrangeiras. Para as mulheres afrodescendentes (escravizadas, recém libertas e migrantes nacionais), esse tipo de serviço se apresentava como uma solução doméstica e tutelada dos conflitos; já as mulheres brancas (em especial, migrantes internacionais) foram valorizadas como limpas e honestas. Mariano e Souza concluem que as experiências de subsistência de mulheres despossuídas na capital revelam papéis sociais improvisados, forjados "ao sabor das demandas cotidianas, as quais distavam dos modelos de feminilidade construídos por uma moral católica e atualizados pelo saber médico".[9]
Estudos específicos sobre as relações de trabalho entre migrantes internacionais e fazendeiros também se tornam destaque de alguns estudos, como é o caso de "As primeiras experiências do trabalho livre imigrante em Campinas", dissertação de mestrado de Carolina Souza, defendida em 2008. Segundo a autora, ainda que os fazendeiros da região de Laranjal Paulista possuíssem escravos nas fazendas, as pendências com esses migrantes eram tratadas através do aparato judicial e não por meio de violência física (como ocorria no trato com os trabalhadores escravizados).[10]
A autora afirma que o estudo das relações de trabalho entre colonos migrantes internacionais e fazendeiros são importantes, à medida que nos permite analisar como se dava a mobilidade social dessas figuras e quais tipos de trabalho desempenhavam. Nesse sentido, as análises de processos judiciais podem ser proveitosas, pois permitem conhecer melhor a arena em que empregadores e empregados passaram a resolver os seus litígios. Souza reforça ainda que os estudos sobre escravidão já mostraram o valor dessas fontes para a análise das relações de trabalho. No entanto, seria necessário partir para outras fontes de pesquisa a fim de estudar as relações entre gênero e trabalho feminino nas áreas rurais do estado.
Não obstante os inegáveis avanços apreendidos pelas pesquisas, há ainda um campo aberto de investigações sobre as relações de trabalho de mulheres migrantes – nacionais e internacionais – e das suas agências em espaços de trabalho urbanos e rurais. Além do trabalho de cuidado dentro de suas casas, as mulheres pretas, mulatas, libertandas e migrantes viveram experiências de trabalho variadas na capital, convivendo com a pluralidade de serviços domésticos, o pequeno comércio de gêneros alimentícios, o recém-chegado trabalho fabril e demais papéis sociais improvisados.
Referências bibliográficas
[1] "A Emenda Constitucional nº 72, do dia 2 de abril de 2013, altera o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais". Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc72.htm. (Acesso em 23/07/21)
[2] Por "libertandas", entende-se mulheres escravizadas em processo de liberdade.
[3] TELLES, Lorena Feres da Silva. Libertas entre sobrados: contratos de trabalho doméstico em São Paulo na derrocada da escravidão. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2011, p.131.
[4] TELLES, p.146.
[5] DA SILVA DIAS, Maria Odila Leite. Mulheres sem história. Revista de História, n. 114, p.33, 1983.
[6] TELLES, p.149.
[7] MARIANO, Caroline da Silva; SOUZA, Lígya Esteves Sant'Anna de. Mulheres úteis à sociedade: gênero e raça no mercado de trabalho na cidade de São Paulo (fim do século XIX e início do XX). Revista Cantareira, n. 34, 2021, p.78.
[8] MARIANO; SOUZA, p.82.
[9] MARIANO, SOUZA, p.93.
[10] SOUZA, Carolina Lima de et al. As primeiras experiências com o trabalho livre imigrante em Campinas no século XIX. 2008, p.63.