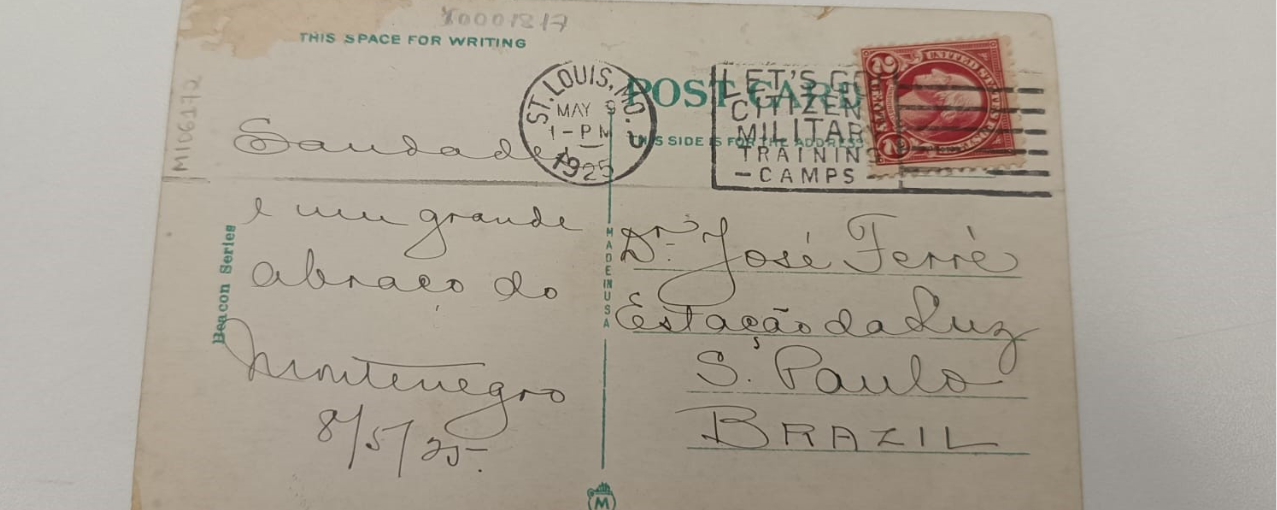Blog
COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?
Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!
A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.
QUERO AJUDAR
Compartilhe
Brasileiros na Hospedaria: O pau de arara
Quando eu vim do sertão
Seu môço, do meu Bodocó
A malota era um saco
E o cadeado era um nó
Só trazia a coragem e a cara
Viajando num pau-de-arara
Eu penei, mas aqui cheguei
Eu penei, mas aqui cheguei
(Pau de Arara, Luiz Gonzaga)
Manuel Gabriel de Oliveira migrou para São Paulo em junho de 1952. Procedente do estado da Bahia, Manuel tinha o mesmo objetivo de milhares de seus conterrâneos: a esperança de conseguir um bom emprego, economizar dinheiro, trazer sua família para junto de si e ter uma vida melhor. Os primeiros meses em terras paulistas foram difíceis e Manuel tentou a sorte em outra localidade, ao norte do estado do Paraná, próximo da divisa com o Mato Grosso do Sul. Lá, ele se tornou uma espécie de agenciador de migrantes baianos, trouxe diversos lavradores, obteve certo capital e julgou ter a soma necessária para buscar a esposa e filhos no Nordeste. Assim sendo, nosso personagem voltou para São Paulo, onde chegou na manhã do dia 16 de junho de 1953. Tomou um bonde e seguiu para as imediações da estação Roosevelt (Brás), afinal, era da Rua Almeida Lima (que passa ao lado da Hospedaria de Imigrantes do Brás) que partiam os “paus de arara”[1] em direção à Bahia. No meio do curto caminho, entre a parada do bonde na Avenida Rangel Pestana e a rua Almeida Lima, Manuel caiu nas artimanhas de dois malandros que surrupiaram todo seu dinheiro[2]. O homem foi prestar queixas à polícia, virou notícia e, por isso, conhecemos sua história.
Na década de 1950 já eram dezenas de milhares os migrantes nacionais acolhidos na Hospedaria de Imigrantes, especialmente pernambucanos, paraibanos, baianos e cearenses. Apesar de existirem diversas formas de realizar a viagem entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, como navios e trens, por exemplo, o meio de transporte mais popular era o "pau de arara", tanto que, a partir dos anos 50, virou uma espécie de sinônimo da situação do migrante nordestino em São Paulo. A história de Manuel nos revela essa logística migratória próxima à Hospedaria de Imigrantes, além disso corrobora a existência de um fluxo de retorno, seja para buscar parentes, por frustrações em São Paulo ou por qualquer outro motivo.

Em 1959, o jornal Diário da Noite publicou uma matéria cuja manchete era: "Desiludidos com o ‘paraíso bandeirante’ regressam: cerca de 10% dos nordestinos estão retornando aos Estados de origem". A matéria citava como causa principal do retorno os baixos salários na lavoura, trazia a opinião de assistentes sociais da Hospedaria de Imigrantes do Brás e tratava das medidas contra os "paus de arara". A Hospedaria informou aos jornalistas que, em 1958, passaram pelo edifício 101.788 migrantes (nacionais e internacionais) e 9.920 eram pessoas que pretendiam voltar à suas terras natais. Interessante ressaltar que a demanda por passes gratuitos de retorno era muito maior do que o governo oferecia, ou seja, muitos desistiam da viagem ou tentavam alternativas mais baratas, daí a proliferação de "paus de arara" sem a segurança adequada para os passageiros, o que acarretava em vários acidentes com vítimas fatais:
"Realizando viagens de semanas, sobre os perigosos veículos, expostos à chuva, ao sol e ao vento, atingem São Paulo doentes, cansados e abatidos. Além de desservir o nordestino, os “paus de arara”, em geral, são manobrados por elementos inescrupulosos que enganam com promessas das mais abusivas os ingênuos imigrantes, prometendo-lhes maravilhas sem par em São Paulo. Uma vez aqui, despejam os nordestinos, deixando-os desamparados."[3]
Pensando nisso, Hélio Canha, então diretor da Hospedaria de Imigrantes do Brás, disse na reportagem que estava estudando a possibilidade de estabelecer uma parceria com a Polícia Rodoviária para controlar as entradas desses caminhões. A ideia inicial era manter funcionários em postos de fiscalização nas cidades de Jacareí e Guarulhos, onde seriam realizadas as vigilâncias sobres os veículos. Além disso, os motoristas só poderiam autorizar o desembarque dos passageiros na porta da Hospedaria, na rua Visconde de Parnaíba, em razão de muitos proprietários de "paus de arara", segundo o diretor, abandonarem os migrantes em qualquer ponto da cidade; sem saber o que fazer ou para onde ir, eles recorriam aos pedidos de esmolas e não eram acolhidos na Hospedaria. Uma medida mais enérgica foi registrada dois anos antes, em 1957, quando o ministro da Justiça solicitou ao governador do estado de São Paulo a proibição do tráfego de "paus de arara" nas estradas paulistas, principalmente na rodovia Dutra. Porém, o efeito de tal ação durou pouco tempo.
Promessas de um Eldorado inexistente, falta de medidas governamentais para a proteção dos migrantes, intensificação do fluxo migratório de nordestinos para São Paulo e, também, aumento do desejo de retorno ao Nordeste. Os "paus de arara", na década de 1950, carregaram esperanças e frustrações, foram evidências do negligenciamento do poder público frente aos brasileiros que procuravam por uma vida melhor distante de casa e tornaram-se símbolos dessa história.
Eu um dia cansado que tava da fome que eu tinha
Eu não tinha nada que fome que eu tinha
Que seca danada no meu Ceará
Eu peguei e juntei um restinho
De coisas que eu tinha
Duas calça velha e uma violinha
E num pau-de-arara toquei para cá
(...)
Vou voltar para o meu Ceará
Porque lá tenho nome
Aqui não sou nada, sou só Zé-com-fome
Sou só Pau-de-Arara, nem sei mais cantar
Vou picar minha mula
Vou antes que tudo rebente
Porque tô achando que o tempo tá quente
Pior do que anda não pode ficar!
(Pau de Arara, Carlos Lyra e Vinicius de Moraes)