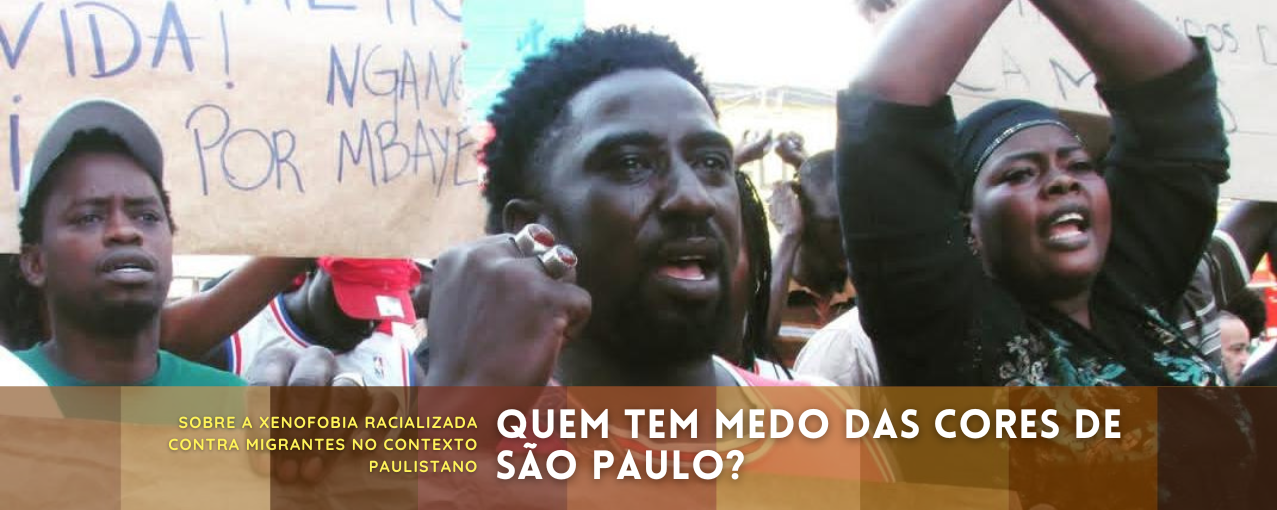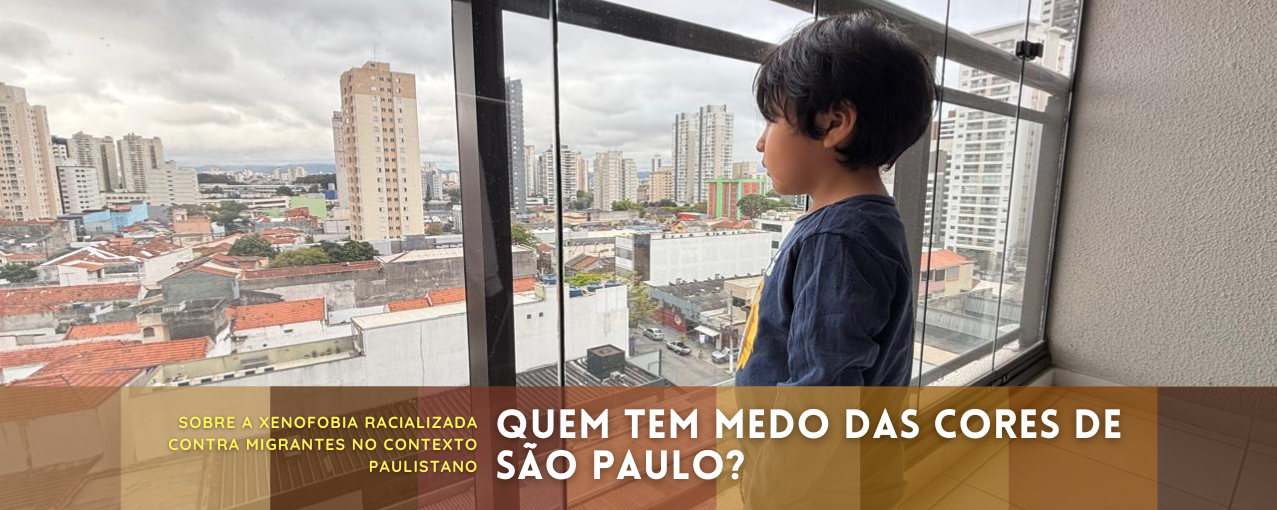Blog

Compartilhe
Mobilidade Humana e Coronavírus - Coronavírus, mulheres e fronteiras: reflexões latino-americanas
A crise desencadeada pela pandemia do Covid-19 tem consequências transformadoras para a vida em todo planeta. Enfrentamos circunstâncias que desafiam não somente a organização da circulação econômica, mas também a geopolítica dos Estados-nação e o papel que as áreas de fronteira ocupam nesta geopolítica. As respostas emergenciais à crise estão dando origem a decisões extremas, que desconcertam aos representantes de todos os espectros políticos (desde os mais conservadores, aos mais progressistas). Uma destas decisões é, justamente, o fechamento das fronteiras internacionais, adotado por centenas de países de todo o mundo.
A partir dos atentados de Nova York de 2001, observamos uma ruptura das lógicas da globalização. Esta ruptura se intensificou particularmente desde 2015. Passamos, assim, de uma “era das migrações”, a uma “era da crise migratória”. Nesta “nova era”, o imperativo de re-fronteirização do mundo converteu-se numa bandeira central de líderes de países tão dissimilares como Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Curioso como possa parecer, estes discursos geram um antagonismo simbólico entre “os cidadãos de bem” de vários contextos nacionais, e os/as “migrantes” (representados como uma identidade negativa, não convidada, indesejada).
Nos países ricos, este discurso invisibiliza tacitamente que estes migrantes são uma mão de obra fundamental para sua demografia envelhecida, que enfrenta sérias dificuldades para sustentar o mercado laboral (dado que não há substituição em tempos prudentes de trabalhadores em idade economicamente ativa). Nos países mais pobres, como é o caso do Brasil, se assumem estes discursos invisibilizando o fato de que, segundo o Ministério das Relações Exteriores deste país, há cerca de 2,5 milhões de brasileiros vivendo como imigrantes fora do Brasil, e cerca de 750.000 estrangeiros em território nacional. Para além destas contradições, os discursos anti-migratórios canalizam o descontentamento de amplos setores das populações nacionais com relação a dois aspectos interconectados e que, contraditoriamente, não são responsabilidade dos/as migrantes: 1) o empobrecimento e o debilitamento das condições de vida globalmente, causados pelas insuficiências cíclicas do modelo de produção; 2) a persistência de ideologias raciais/xenofóbicas/etnocêntricas justapostas a noção de identidade nacional.
O fechamento das fronteiras devido à emergência sanitária da pandemia tensiona estes imaginários e se articula perigosamente a estes discursos de “proteção contra as ameaças estrangeiras”. Mas, simultaneamente, sabemos que é uma medida necessária para deter o avanço do vírus, particularmente nos países da periferia global – o Brasil entre eles –, que não contam nem com os recursos, nem com as possibilidades de expansão rápida do sistema sanitário público que gozam os países centrais do capitalismo. Assim, a pandemia reforçou uma noção generalizada de reconfiguração do sistema migratório global, instaurando com uma rapidez poucas vezes vista na história recente da humanidade, uma mudança de regime nas mobilidades planetárias. Seguramente, as migrações internacionais e internas em cada país não serão as mesmas depois desta crise. Tudo isto terá um impacto político, econômico, social e cultural que ainda nos custa vislumbrar.

Neste texto, convido a refletir sobre um destes impactos: a transformação da vida cotidiana – da economia, da vida familiar, da experiencia do espaço público e das identidades – nos territórios de fronteira latino-americanos, que vem tendo as suas rotinas e mobilidades fortemente alteradas pela crise sanitária. Particularmente, quero compartilhar algumas ideias que permitirão situar, a partir de uma perspectiva de gênero, as problemáticas que o fechamento de fronteiras da região pode suscitar. O que acontece com as mulheres nestes territórios latino-americanos (e brasileiros, entre eles) onde o trânsito humano e de mercadorias foi interrompido?
Comecemos por caracterizar estes espaços, conscientes de que não é possível agrupá-los sob uma única descrição, dado que são variados e sumamente heterogêneos. Talvez seu denominador comum seja precisamente este: as fronteiras da América Latina são áreas complexas, desde diversos pontos de vista. Nelas, as disputas territoriais, econômicas, políticas e sociais entre nações limítrofes afloram de forma particular nas relações cotidianas. O dia a dia de quem trabalha, vive e/ou transita nas fronteiras depende da mobilidade constante entre espaços nacionais. A intensidade destas mobilidades varia de fronteira para fronteira. Mas, geralmente, as economias e vidas fronteiriças se constroem a partir dos pequenos, médios e grandes benefícios que se pode obter atravessando mercadorias, dinheiro, serviços e atividades de um lado ao outro. Esta mobilidade tem efeitos curiosos: para executá-la, as pessoas devem estabelecer alianças com habitantes dos países limítrofes e isto reconfigura permanentemente as tensões entre aliados e inimigos. Assim, as relações vão se ajustando dinamicamente e os contatos entre uns e outros vão cruzando os limites entre proximidade e distância; legalidade e ilegalidades; formalidade e informalidade; pertencimento e desarraigo. Consequentemente, as identidades nestes territórios costumam ser camaleônicas: adaptam-se as circunstâncias e interações, enquanto as diferenças culturais (menos fluidas que as identidades), parecem voltar uma e outra vez às disputas nacionais, reinterpretando-as.
Isto remonta, pelo menos parcialmente, ao fato de que a maior parte das fronteiras latino-americanas são um produto tardio do século XIX e, em muitos casos, sua imposição separou famílias que foram separadas pelas fronteiras. Em vários destes territórios, o estabelecimento dos limites nacionais entrecortou atividades sociais que atravessavam estes espaços desde tempos remotos (pré-coloniais, inclusive).

Como se fosse pouco, os espaços de fronteira também costumam ser pouco ou mal conhecidos desde os centros de decisão de cada país. A concentração do poder político em cidades ou regiões afastadas das fronteiras termina por configurar a estas últimas como espaços periféricos. Suas demandas, necessidades e particularidades são, no melhor dos casos, mal interpretadas; e no pior (e mais frequente), ignoradas pelos centros decisórios nacionais.
Além destes fatores, há outro que é especialmente relevante para a reflexão desenvolvida neste texto. As fronteiras são espaços onde as desigualdades de gênero aparecem de forma magnificada. Esta realidade foi observada por pesquisas desenvolvidas em diversos continentes (nas Américas, África, Ásia e Europa). Na América Latina, este tema começou a ganhar centralidade nos anos oitenta do século XX, com estudos realizados entre México e Estados Unidos. Desde então, as contribuições de pesquisadoras/es latino-americanas/os em diferentes pontos desta fronteira são peças fundamentais para as ciências sociais. Estas pesquisas permitem definir que, nestes territórios, as mulheres estão expostas à superposição de diferentes elementos que as empurram à vulnerabilidade social: sua condição de gênero, sua situação socioeconômica, sua identidade (particularmente, devido as discriminações racistas, étnicas e xenofóbicas).

Entre as várias conclusões destes estudos, destaco a apreciação de que a vulnerabilidade laboral que as mulheres enfrentam nestes espaços se articula ao âmbito doméstico, pois está conectada às relações amorosas e com os membros masculinos da sua família. Frequentemente, as mulheres têm mais saídas laborais que os homens nos territórios fronteiriços. Isto se deve a que se crê que elas são mais exploráveis (ganham piores salários, trabalham mais horas, aceitam por mais tempo trabalhar sem contratos). Apesar desta exploração, os homens se sentem deslocados de sua função de provedores econômicos; isto culmina em brotes de violência de gênero que têm origem nos lares, mas se expandem aos espaços públicos. (Como ocorreu em Ciudad Juárez, localidade mexicana na fronteira com Estados Unidos onde 400 mulheres foram assassinadas por seus companheiros entre 1994 e 2004). Ainda assim, os estudos desenvolvidos nas fronteiras latino-americanas também mostram que as mulheres enfrentam uma maior quantidade de violações dos direitos humanos por parte de autoridades, forças de segurança e militares nos controles fronteiriços e que a violência promovida pelo narcotráfico nestes territórios se diferencia por género (costumam a ter um brutal caráter sexual contra as mulheres).
Nas fronteiras da América do Sul, estes debates ganharam muita relevância desde o princípio do século XXI, devido ao crescente interesse internacional sobre a violência de gênero nas fronteiras do continente. Em 2002, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) declarou que prevenir e punir as redes ilegais de tráfico de mulheres nas zonas fronteiriças sul-americanas era prioritário, dada a gravidade da vulneração dos direitos humanos nestas redes. (Os diagnósticos apontavam a que o tráfico de mulheres com fins sexuais nestas fronteiras estava articulada com os circuitos turísticos, comerciais e do narcotráfico).

Contudo, há outro elemento fundamental para entender as experiencias das mulheres nas zonas fronteiriças latino-americanas em geral, e sul-americanas, em particular. Grande parte das mulheres desenvolvem suas atividades econômicas fronteiriças – sejam elas vinculadas ao comercio legal/ilegal; aos trabalhos domésticos ou às atividades rurais – para dar resposta a sua sobrecarga como chefas de famílias. A maior parte delas atua como as principais fontes econômicas familiares e, ao mesmo tempo, como as principais responsáveis pelo cuidado de filhos/as e (em reincidentes casos, elas são, ainda cuidadoras dos pais, mães e irmãs/ãos).
Desde os anos oitenta, as reformas neoliberais provocaram um desemprego massivo na América do Sul, associado com a precarização das condições de trabalho gerais. Devido à persistência de padrões de conduta patriarcal, reproduz-se uma divisão social do trabalho na qual o homem se encarrega do recurso econômico (atuando no mercado produtivo), enquanto a mulher se encarrega dos cuidados do núcleo familiar (do denominado “trabalho reprodutivo”). Com o incremento do desemprego, por um lado, e das políticas de ajuste e retirada do Estado (em termos de proteção social), por outro, cresce a incapacidade dos homens de responder às demandas da família. Tudo isto redunda num processo de ruptura familiar (com o abandono do lar por parte da figura masculina): realidade que se incrementou entre os setores sociais mais pobres e de classe média baixa, provocando que as mulheres passassem a assumir sozinhas as tarefas reprodutivas e produtivas familiares. Em diferentes países sul-americanos, esta dupla responsabilidade constituiu um incentivo central à migração internacional feminina. Nos territórios fronteiriços, esta responsabilidade também atua como principal impulsora das mulheres, empurrando-as a sustentar atividades fronteiriças para responder como podem à sobrecarga.

Desde 2011, venho desenvolvendo pesquisas sobre as vidas das mulheres nas fronteiras entre o Chile, o Peru e a Bolívia e, desde 2016, nas fronteiras entre a Argentina, o Brasil e o Paraguai. Tive a oportunidade de constatar esta sobrecarga feminina entre mulheres fronteiriças peruanas, chilenas, bolivianas, argentinas, brasileiras e paraguaias. Para elas, o fechamento de fronteiras implica uma transformação profunda em suas rotinas. Mas implica, particularmente, a impossibilidade de afrontar de maneira digna suas sobrecargas. Assim, estas transformações globais nos regimes fronteiriços, o fechamento das aduanas entre países terá, seguramente, uma dimensão de gênero que não vem sendo tomada em conta pelos países. Como dizia anteriormente, além de não poder suprir as necessidades de suas famílias, estas mulheres estarão expostas também à violência masculina que, como diversos estudos mostraram, incrementam-se quando as dificuldades econômicas na fronteira reduzem os recursos familiares. Assim, no delicado equilíbrio de forças entre a quem se protege, e a quem se descuida com as atuais medidas sanitárias, teríamos que computar também – ao menos computar – o papel crucial das mulheres e suas necessidades como agentes das mobilidades fronteiriças na América Latina.
Quero acrescentar ainda outras dimensões a este debate. Apesar da magnitude e intensidade das violências e desigualdades de gênero identificadas nas fronteiras latino-americanas, grande parte dos estudos coincidem em assumir que as mulheres possuem um papel importantíssimo nestes territórios. Elas também são agentes ativos da resistência e do empoderamento pessoal, familiar e comunitário.
As mulheres que cruzam fronteiras encontram formas inovadoras de ultrapassar as limitações e ausências estatais – tanto nos serviços sociais e sanitários, como nos controles fronteiriços. Observa-se que o caráter dinâmico das fronteiras repercute numa forma de agência protagonizada por todos, mas encarnada particularmente nas mulheres. Por isto, elas deveriam ser tomadas em conta como agentes potencialmente importantes para as políticas sanitárias em territórios fronteiriços. Os fechamentos e proibições teriam menor impacto social e econômico se as mulheres fossem tomadas como parte dessas políticas: se, ao invés de estabelecer restrições verticais que castigam todas as mobilidades, fosse trabalhado comunitariamente, assumindo as mulheres fronteiriças como protagonistas destas ações.
Menara Lube Guizardi é cientista social, pós graduada em Ciências Humanas e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES, Brasil); mestra em Estudos Latinoamericanos e doutora em Antropologia Social, ambos pela Universidad Autónoma de Madrid (UAM, Espanha). Atualmente é pesquisadora do Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martin (Buenos Aires, Argentina) e da Universidad de Tarapacá (Arica, Chile).
Para mais informações, acesse o site do projeto de pesquisa Mujeres y Fronteras em http://www.mujeresyfronteras.com/.
Foto da chamada: Foz do Iguaçu / Crédito: Pablo Mardones
Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.