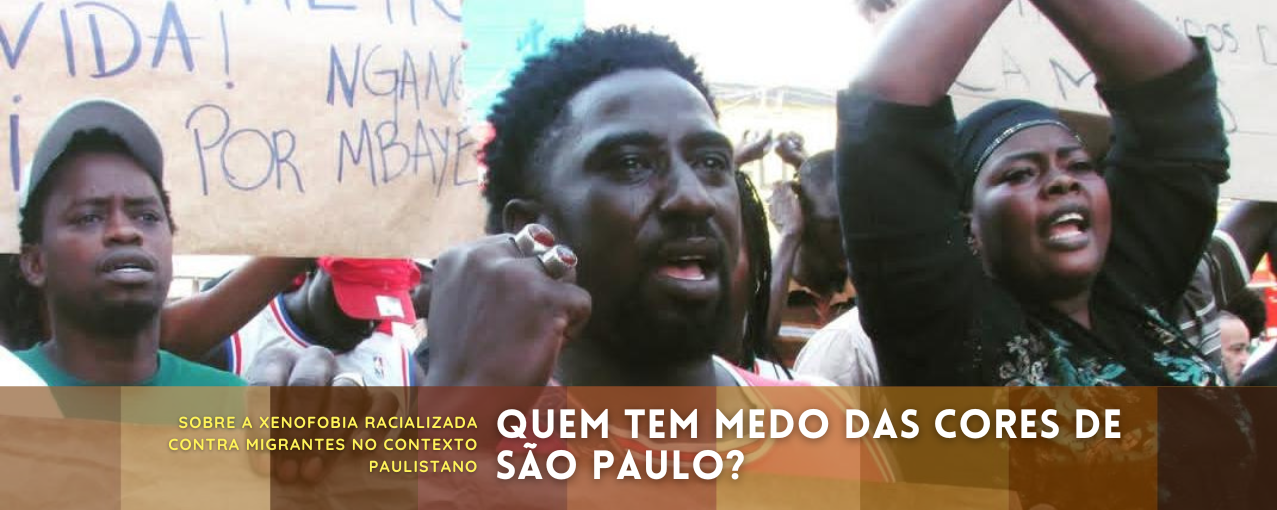Blog
COMO ESTÁ SENDO SUA LEITURA?
Conte para a gente o que achou do nosso blog e ajude a melhorar nossos conteúdos!
A participação nesta pesquisa garante 1 ingresso + 1 acompanhante para visitar o Museu da Imigração.
QUERO AJUDAR
Compartilhe
Mulheres e Migração: Violência e Resistência
[Alerta Gatilho: violência contra mulheres]
"Ontem, às 14 horas e meia, na rua Pires da Motta, n. 51, deu-se uma cena escandalosa.
O sírio Assy, que, diga-se a bem da verdade, tem verdadeira ojeriza pelo trabalho, todo os dias quer arrancar, à força, dinheiro à sua mulher, Emilia Dolcea, de 37 anos de idade, a quem, ontem, como é seu costume velho quis "morder" em vinte mil réis.
Ou porque Emilia não tivesse o dinheiro pedido, ou porque não o quisesse dar ao marido, este, cheio de raiva, munindo-se de um cacete, desfechou formidável surra na mulher.
Benedicta Bernardo, de 34 anos, solteira, cozinheira, residente à rua Iguape, n. 130, que, na ocasião, se achava em casa de Assy, vendo a sua amiga ser agredida pelo marido, munindo-se também de um cacete, desancou o mau marido, que se pôs em debandada.
Acorreram ao local os vizinhos e a polícia, que transportou para a Central a Benedicta e a Emilia.
O mau marido foi recolhido ao xadrez.
Emilia recebeu os seguintes ferimentos: dois contusos, nas regiões frontal e parietal, e um da mesma natureza na região palmar da mão esquerda, sendo medicada na Assistência.
O sr. Dr. Alfredo Pagliucchi, comissário de plantão na Central, abriu o competente inquérito."[1]
A história acima foi publicada pelo Correio Paulistano em abril de 1926. Certamente não foi um fato que surpreendeu a polícia, tampouco os leitores do jornal. Notícias como essa são facilmente encontradas em diversos periódicos do início do século XX. O mesmo Correio Paulistano, ao descrever um caso semelhante em outubro de 1928, destaca no título da matéria: "As histórias de sempre, um mau marido, uma esposa infeliz, e quatro crianças ao léu da sorte" (grifo nosso).[2]
Faz parte do cotidiano da equipe de pesquisa do Museu da Imigração receber diversas dúvidas a respeito da história das migrações para o Brasil. Essas questões partem, especialmente, do público que deseja saber mais detalhes sobre antepassados migrantes, estudantes e imprensa de maneira geral. A maioria das perguntas se refere aos motivos pelos quais as pessoas decidiram deixar os seus países de origem e escolheram o Brasil como destino, as condições de trabalho em solo brasileiro e as suas contribuições para o desenvolvimento do país, tanto em aspectos políticos e econômicos quanto no âmbito cultural e social. Mas como era o dia a dia dessas famílias? Como elas se relacionavam entre si e com os seus pares?
Em artigos anteriores dessa série já mencionamos que, quando nos debruçamos sobre a história das mulheres migrantes, precisamos lidar com inúmeras lacunas e traçar diferentes estratégias para tentar preencher esses vazios e compreender melhor o papel e a atuação delas nesse processo. Uma das possíveis alternativas é voltar os nossos olhos para uma história do cotidiano. Nesse sentido, as fontes jornalísticas se transformam em um material fundamental para encontrarmos essas personagens. O desenvolvimento de novas perspectivas dos estudos históricos ao longo século XX, a utilização de outras disciplinas para reflexões historiográficas, a ampliação do conjunto de fontes e a consequente observação da história por outros ângulos propiciou abordagens relativas a grupos sociais, até então, negligenciados pelos historiadores, como camponeses, operários, escravos, mulheres, entre outros, "dessa forma, as transformações na historiografia, articuladas à explosão do feminismo, a partir de fins da década de 1960, tiveram papel decisivo no processo em que as mulheres são alçadas à condição de objeto e sujeito da História, marcando a emergência da História das Mulheres".[3]
A história do cotidiano é, portanto, um caminho interessante para nos depararmos com as trajetórias e ações das mulheres migrantes no Brasil. Como bem exemplificado na notícia que abre esse artigo, tal cotidiano era marcado pela violência. Obviamente os casos de violência contra mulher em São Paulo, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, não estavam restritos às famílias de migrantes estrangeiros, tampouco a uma classe social específica. Os exemplos aqui tratados têm como objetivo mostrar que esse cenário também fazia parte do dia a dia de diversas mulheres migrantes.
Dois pontos merecem atenção especial. Em primeiro lugar, as lutas e estratégias adotadas por essas mulheres para fazerem valer os seus direitos e reagirem às agressões sofridas. E o outro tema diz respeito ao fato de que essas mulheres sofreram outros tipos de violência além da física.
A tese da historiadora Marinete Aparecida Z. Rodrigues, "Mulheres, violência e justiça: crime e criminalidade no sul de Mato Grosso, 1830-1889"[4], apresenta casos em que as mulheres tomaram determinadas atitudes frente às agressões nas quais estavam envolvidas e eram vítimas. A não submissão das mulheres, o agir em favor de obter justiça e uma vida mais digna está expressa na história narrada acima e em muitas outras notícias.
Emilia se negou a dar o dinheiro ao marido, Bernarda defendeu a sua amiga, ambas procuraram a polícia, que prendeu o agressor. A história de Josepha Spadoni teve um final trágico. Agredida e abandonada constantemente pelo marido, Josepha era uma operária italiana que trabalhava sozinha para poder sustentar os filhos. Quando conseguia procurava refúgio na casa da mãe. Não suportando mais a condição em que vivia, resolveu abandonar de vez o esposo. Este não aceitou a decisão. Apunhalou Josepha pelas costas quando ela estendia roupas no varal. O criminoso, José Pereira, fugiu. Josepha faleceu na calçada próxima de casa[5]. A austríaca Anna convivia com um marido ciumento e covarde. Em uma das ocasiões, além de esbofeteá-la, a agrediu com um chicote. Anna conseguiu fugir e contou com a ajuda de um patrício para denunciar o esposo, que foi preso.[6] A engomadeira espanhola Helena Parma, de 29 anos, foi salva por vizinhos enquanto o seu marido a espancava com uma cinta.[7] Outras duas mulheres espanholas não tiveram a mesma sorte. Emmanuela Zamoza teve o rosto queimado pelo marido. Após voltar bêbado de uma festa de carnaval, dormir e não encontrar o almoço pronto, ele jogou na esposa uma panela de feijão que ainda fervia.[8] Maria, com 45 anos, sofreu dois tiros de revólver do seu companheiro, João Viegas. Foi socorrida e levada ao hospital com grave ferimento na boca.[9] Como esses há dezenas e dezenas de outros casos.
Um episódio em particular merece a citação. A italiana Isabel Maiorano se casou no final da década de 1910 com um compatriota, Felipe Brancaccio. Segundo o Correio Paulistano, no começo, o casamento se desenrolou sem maiores problemas. Felipe trabalhava normalmente, era carinhoso com Isabel e com os dois filhos pequenos. No entanto, depois de cinco anos de relacionamento, a situação mudou. As brigas entre o casal aumentaram e o marido chegou a expulsar a esposa de casa algumas vezes. Sem dinheiro para se sustentar, o maridou recorreu à mulher. Queria que ela obtivesse determinada quantia com seu pai. Isabel negou e o casal se separou definitivamente. Mas isso não foi suficiente. Felipe continuou a procurar a ex-esposa para insultá-la. Em fevereiro de 1923, se dirigiu até a casa do sogro, no bairro do Cambuci, começou a desferir impropérios contra Isabel e a agarrou pelo pescoço. Desesperada, a mulher alcançou um revólver que estava pendurado na parece e atirou duas vezes contra o ex-marido. Além disso, tomou uma faca e avançou contra Felipe, mas foi contida por outras pessoas presentes no local.[10]
Todas essas histórias nos revelam episódios de violência doméstica. É algo muito comum encontrar notícias como essa nos jornais que circulavam em São Paulo há cerca de cem anos. As mulheres resistiam com os meios que possuíam, recorriam a vizinhos, amigos e à polícia. Procuravam se afastar e se mudavam para casa de parentes. E lutavam quando não havia outro recurso, como reagiu Isabel.
Mas, além da agressão física, mulheres migrantes precisavam enfrentar outro tipo de violência. O caso da italiana Luiza Seppi é um bom exemplo. Em janeiro de 1917, o corpo dela foi encontrado no rio Tietê. Aparentemente, segundo o jornal A Gazeta, ela havia cometido suicídio. Isso porque, horas antes, um soldado conseguiu impedir ela de pôr em prática o seu plano suicida. Na segunda oportunidade, ela escapou às testemunhas. Luiza estava sem recursos. O seu marido foi lutar na Primeira Guerra Mundial e acabou falecendo na Europa. A princípio, o "Comitato" Italiano auxiliou a viúva com 55 réis por mês. No entanto, sob a justificativa de que Luiza não se portava de maneira adequada, a instituição suspendeu a mesada. Sem recursos financeiros, Luiza se desesperançou.[11]
Na Hospedaria de Imigrantes do Brás existem algumas matrículas de famílias que aguardavam repatriação. Um dos pré-requisitos existentes para as pessoas obterem um subsídio nesse processo era a viuvez. A história de Luiza nos mostra que algumas pessoas recebiam ajuda de instituições ligadas aos seus países de origem. Ainda assim, quantas mulheres não conseguiram o amparo necessário em situações semelhantes? Em 1926, a portuguesa Maria Neves Duarte, viúva, foi recolhida à Hospedaria junto de outros homens e mulheres que viviam nas ruas da cidade de São Paulo. Entrevistada pelos repórteres do jornal Correio Paulistano, ela compartilhou em lágrimas a sua angústia em ser esquecida pelos filhos, que moravam na Capital e em Santos.[12]
O que, talvez, mais nos surpreenda e chame a atenção é que essas histórias poderiam estar nos jornais que lemos em 2021. Todo dia nos deparamos com notícias de violências contra as mulheres, agressões físicas e psicológicas. Para 25 de novembro de 2020 (Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres), reportagens indicaram que, durante a pandemia da COVID-19, o índice de agressões contra mulheres, especialmente no ambiente doméstico, aumentou em diversas partes do mundo. O Brasil registrou alta nos casos de feminicídio, por exemplo.[13]
Ainda é uma realidade o medo de muitas mulheres denunciarem o agressor à justiça ou à família. Inclusive esse temor vai além do agressor em si. Uma matéria da Rede Brasil Atual, de abril de 2020, indica que algumas mulheres não vão às delegacias por medo da própria polícia.[14] Nos últimos anos, o Brasil avançou no combate à violência contra mulher. Um marco na história do país é a promulgação da Lei Maria da Penha, em agosto de 2006.[15] Mas, evidentemente, existe ainda um caminho longo a percorrer.
As mulheres das décadas de 1910 e 1920 (período das histórias narradas nesse texto) precisaram também superar esses obstáculos. Muitas não se calaram. Quantas não puderam, por medo, opressão ou qualquer outro motivo, escapar dessa terrível realidade? É fundamental conhecermos as histórias dessas mulheres e evitarmos as análises e percepções muitas vezes romantizadas sobre a história das migrações para o Brasil. Claro que a violência não estava presente em todas as famílias, mas fazia parte da rotina de muitas outras. O direcionamento do nosso olhar para o cotidiano nos coloca em contato com as trajetórias de vida dessas mulheres migrantes, com suas lutas, suas angústias, suas resistências e suas ações. Enfim, com suas histórias.
Referências bibliográficas
[1] Transcrição adaptada de notícia do jornal Correio Paulistano, 30 de abril de 1926.
[2] Transcrição adaptada de notícia do jornal Correio Paulistano, 19 de outubro de 1928.
[3] SOIHET, Rachel e PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da História das Mulheres e das Relações de Gênero. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, nº 54, p. 281-300 – 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbh/v27n54/a15v2754.pdf.
[4] RODRIGUES, Marinete Ap. Z. "Mulheres, violência e justiça: crime e criminalidade no sul de Mato Grosso, 1830-1889". Tese apresentada ao programa de pós-graduação em História Social, FFLCH/USP, 2013. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-02082013-123222/publico/2013_MarineteAparecidaZachariasRodrigues_VCorr.pdf.
[5] Jornal Correio Paulistano, 23 de julho de 1923.
[6] Jornal Diário Nacional, 27 de dezembro de 1928.
[7] Jornal Correio Paulistano, 07 de março de 1925.
[8] Jorna A Gazeta, 17 de fevereiro de 1915.
[9] Jornal Correio Paulistano, 01 de abril de 1924.
[10] Jornal Correio Paulistano, 28 de fevereiro de 1923.
[11] Jornal A Gazeta, 20 de janeiro de 1917.
[12] Jornal Correio Paulistano, 18 de outubro de 1926.
[13] France Presse. Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/11/23/com-restricoes-da-pandemia-aumento-da-violencia-contra-a-mulher-e-fenomeno-mundial.ghtml. 23/11/2020.
[14] Clara Assunção, Rede Brasil Atual. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2020/04/violencia-contra-a-mulher-dificuldade-registrar-denuncia/. 26/04/2020.
[15] Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.