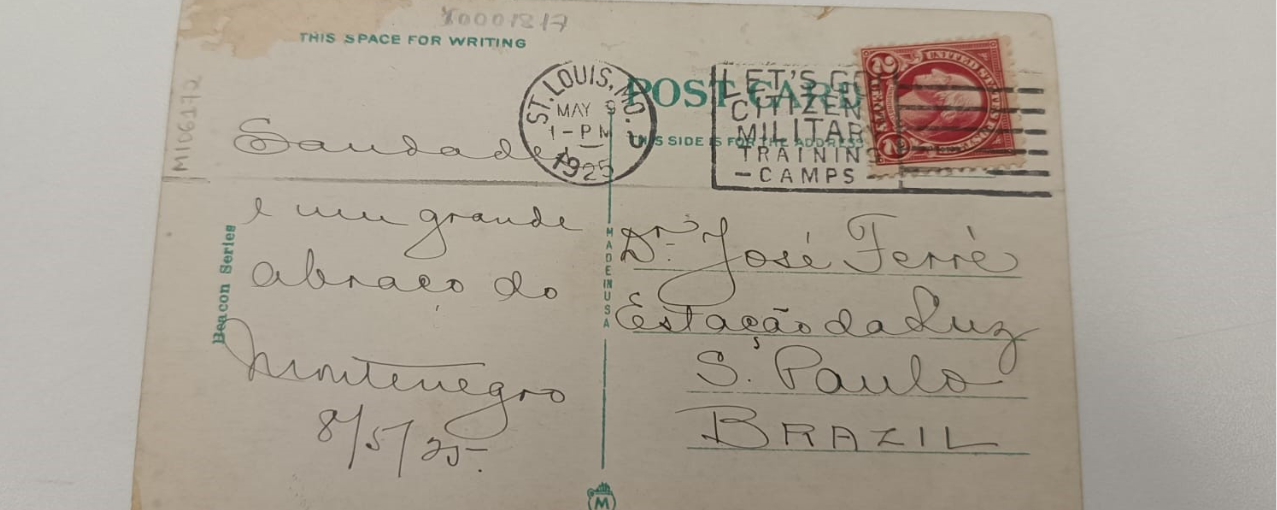Blog

Share
Hospedaria em Quarentena: Do lado de fora do muro
Como o Coronavírus vai afetar os diferentes bairros de São Paulo?
Essa é uma questão que permeia muitos dos noticiários sobre a cidade e sua relação com essa doença. Algumas localidades da capital paulista são, evidentemente, menos desenvolvidas do que outras em termos de estrutura médico-hospitalar, saneamento básico, condição da habitação, poder aquisitivo dos moradores para compra de remédios, equipamentos de proteção, entre outros. Há um temor, certamente justificado, de que populações de bairros periféricos ou em vulnerabilidade social sejam muito mais suscetíveis aos males causados pela epidemia.
Em números absolutos, a São Paulo de hoje é incomparável com a de 100, 150 anos atrás. Em contrapartida, a cidade nunca experimentou um crescimento demográfico relativo tão grande como o da última década do século XIX. Tal expansão foi resultado dos intensos fluxos migratórios para o estado paulista, especialmente a partir de 1887. A população da capital, que contava por volta de 30 mil habitantes em 1872, passou para mais de 220 mil em 1900 e já se aproximava dos 600 mil no ano de 1920[1].
Claro que esse desenvolvimento desenfreado não ocorreu sem complicações. O problema da moradia foi um deles: em estimativa feita no começo dos anos 1920, a cidade possuía um déficit de 15 mil prédios para moradias[2]. De todo modo, as pessoas precisavam de um teto para trabalhar e sobreviver na “terra da garoa” e, nesse sentido, precisaram encontrar soluções. Para os operários das fábricas, na época formados por uma maioria de migrantes estrangeiros, era inviável morar em bairros afastados do trabalho (onde os aluguéis eram mais baratos). No começo do século XX, uma viagem de bonde entre a Penha ou Santana e o centro da cidade podia custar cerca de 40% do salário diário de um trabalhador da indústria[3]. A saída encontrada pelos imigrantes, bem como outras camadas da população, foi habitar os cortiços que se proliferavam por alguns bairros de São Paulo como a Mooca, Brás, Bixiga, Bom Retiro e Santa Ifigênia.
Nessa série, em algumas das publicações anteriores, pudemos mencionar certas táticas utilizadas na Hospedaria de Imigrantes do Brás para prevenir e, quando não fosse possível, limitar a disseminação das epidemias no edifício. Para as autoridades era muito clara a vulnerabilidade da Hospedaria, um local que sempre contava com aglomeração de pessoas provenientes de diversos países (portos, geralmente, eram locais com maior incidência de doenças), que tinham viajado por semanas, em embarcações que não possuíam as melhores condições higiênicas e, além disso, cuja alimentação deixava a desejar. Ou seja, eram indivíduos debilitados, que provavelmente tinham passado por locais com regular incidência de doenças. A Hospedaria do Brás era, portanto, não só o "depósito de uma força de trabalho considerável para o estado de São Paulo, como também um depósito de doenças", no dizer de Cláudio Bertolli Filho[4]. Por isso mesmo, as atenções se voltavam para ela e os procedimentos de vacinação e quarentena eram, regularmente, adotados. Isso significa que, apesar de a Hospedaria conviver, recorrentemente, com as epidemias, por lá elas eram mais controláveis.

No entanto, os imigrantes, obviamente, não podiam ficar para sempre confinados na Hospedaria. Permaneciam no edifício, em média, três ou quatro dias e depois se encaminhavam para seus respectivos destinos, fossem as plantações do interior do estado ou as fábricas da capital. Como mencionado, aqueles que se tornaram operários não tinham muitas opções de moradias e necessitavam habitar os cortiços, muitos deles próximos às várzeas de diversos rios e riachos da cidade. A questão que se evidenciava, no que diz respeito as epidemias, era a seguinte: como controlar as doenças infectocontagiosas fora dos muros da Hospedaria, especialmente nos cortiços?
Em 1920, os bairros do Bom Retiro, Belenzinho, Brás e Mooca concentravam cerca de 36,6% dos habitantes da capital[5]. Absorviam uma boa parcela dos cortiços que, na maioria dos casos, não possuíam estruturas básicas para um convívio saudável. Em vários faltavam latrinas domiciliares, estavam sujeitos às inundações e ao não escoamento correto das águas das chuvas - devido ao aterramento de muitas áreas próximas às ferrovias -, não havia pavimentação adequada, luz, a água captada não era potável e, além disso, centenas de pessoas viviam juntas e aglomeradas[6]. Os cortiços, pode-se dizer, eram miniaturas da Hospedaria do Brás, em termos de números e características da população. No entanto, toda estrutura que havia na Hospedaria, como um corpo constante de funcionários especializados, saneamento básico, equipamentos apropriados, espaços para a aplicação de quarentenas, entre outros, não existia, de forma alguma, nos cortiços.
Esses locais eram completamente expostos às epidemias: a tuberculose era visita de praxe; em 1893, os cortiços da Santa Ifigênia se defrontaram com uma grave epidemia de febre amarela; em 1906 a rubéola e o sarampo atacaram o Brás; a varíola afetava mais os da Bela Vista e Bom Retiro; e durante a primeira década do século XX, a febre tifoide passava em frente à essas habitações e entrava sem bater[7].
As ações do poder público, frente a esse problema, podem ser sintetizadas em duas mais frequentes: a realização de visitas nessas moradias e a interdições daquelas consideradas demasiadamente insalubres. Um dos melhores exemplos de documentos produzidos a partir dessas visitas é o “Relatório de Inspecção da Commisão de exame e inspecção das habitações operárias e cortiços no districto de Sta. Ephigenia (1893)” [8]. Tais procedimentos, no entanto, não impediram a construção de mais cortiços na cidade, uma vez que não havia a possibilidade de vistoriar todas as habitações desse tipo. O que os moradores precisavam, de fato, eram não só de políticas que incentivassem a migração, mas também de políticas que visassem ao bem estar social para todos os residentes na cidade de São Paulo, independente de suas origens.
Essas epidemias, embora constantes, eram de menores proporções e mais administráveis, mesmo nesses locais, se comparadas à que estava por vir. No segundo semestre de 1918, uma nova epidemia surgiu, muito mais forte e avassaladora e a Hospedaria de Imigrantes do Brás que, na medida do possível, segurava em seus muros os surtos que enfrentava, abriria seus portões para receber os doentes da cidade, principalmente provenientes dos cortiços do Brás e da Mooca. Era a gripe espanhola estava a caminho, assunto do nosso próximo post.

Referências bibliográficas
[1] Censo Demográfico da Cidade de São Paulo: http://smul.prefeitura.sp.gov.br/historico_demografico/1900.php
[2] FILHO, Claudio Bertolli. A gripe espanhola em São Paulo, 1918: epidemia e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2003. p. 45
[3] Idem, 2003. p. 46
[4] Idem. p. 56.
[5] Idem. p. 43
[6] Idem. p.44.
[7] Idem. p. 56.
[8] O documento pode ser encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP).
Foto da chamada: Multidão na cidade de São Paulo. Acervo Museu da Imigração/APESP