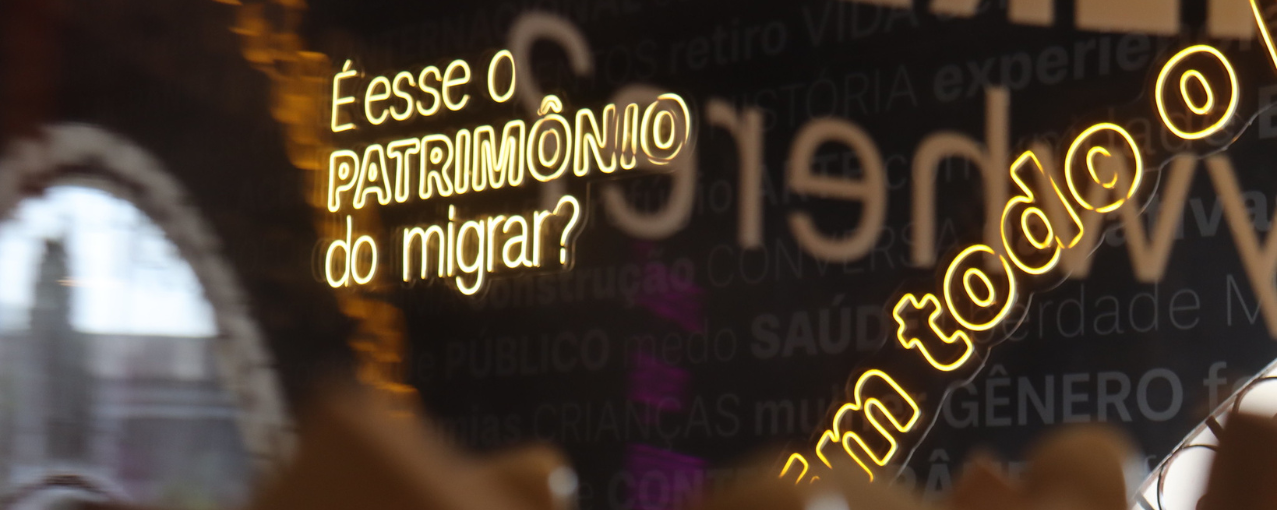Blog

Share
A mobilidade dos "homens lentos": desigualdade e fluidez em tempos de pandemia
Movimento e fluidez são duas características pertinentes da sociedade globalizada, em especial após as intensas transformações nos sistemas de transportes e comunicações a partir da Terceira Revolução Industrial.
A segunda metade do século XX, nas suas mais diversas dimensões sócio técnicas, nos apresentou um mundo onde o acesso à agilidade tornou-se base para diferenciações sociais. Dito de outra forma, com novas tecnologias de informação como a internet, o acesso a dados e à comunicação mundializou-se e, com novos e ágeis sistemas de transportes e logística, deslocar-se com maior fluidez passou a ser uma realidade para pessoas e mercadorias. De situações como estas surgiram metáforas como a "supressão do espaço pelo tempo" com um visível "encurtamento das distâncias" entre outras[1].
Surge assim um novo modelo de divisão internacional entre países. Existem aqueles que, sendo sedes de produção de conhecimento e tecnologia que viabilizam esta fluidez, encontram-se no "centro" das decisões globais, enquanto os demais disputam as múltiplas esferas da "periferia mundial", sejam os que se subordinam às decisões do "centro", como as áreas dos países "emergentes", ou aqueles que, por não apresentarem nada significativo ao capital global, encontram-se marginalizados pelo processo de globalização e, assim, praticamente "parados" diante da fluidez mundial[2].
Santos [3][4] nos mostra que o modelo apresentado acima extrapola as realidades nacionais e dá origem a uma adequação da estratificação social, criando indivíduos que, com acesso mais descomplicado ao capital e tecnologia, são capazes de facilitar sua entrada nos sistemas de comunicação e transportes apresentando agilidade no uso do espaço (deslocando-se rapidamente com o uso de aviões, por exemplo), enquanto outros indivíduos que, com menor disposição ao capital e sua fluidez, tornam-se "lentos", sem os acessos à mobilidade tão propalada pela globalização. É "lenta" a maior parte da população brasileira onde, vivendo o cotidiano de concentração fundiária e de renda, temos grande parcela exposta às carências cotidianas de capital e de direitos, vivendo na extensa informalidade que em tempos anteriores à pandemia chegavam a 41,1% dos trabalhadores[5] ou diante de cerca de 11% de desemprego em tempos sem COVID-19[6].
A globalização nos mostra que viver em "tempos rápidos" é um privilégio de uma camada da população que, com posse de capital, se desloca agilmente entre os espaços, seja trabalhando ou a lazer ou, ainda, comprando online mercadorias produzidas em diferentes países do mundo. A falta de renda oferece aos "homens lentos" uma mobilidade limitada, vivendo e interagindo com pequenos espaços com consumo estritamente limitado e local, expressão da realidade da vida das comunidades mais carentes do país[7].
Em tempos de pandemia da COVID-19 percebemos que os ritmos se alteraram. "Fique em casa" é a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de amplos setores da ciência. Diante de um cenário de incertezas, o movimento e a agilidade propalada pela dinâmica da mundialização passa a ser vista como um risco. Fechar fronteiras, promover o distanciamento social e limitar o deslocamento tornaram-se medidas de saúde e contenção da COVID-19. De repente, as mesmas tecnologias que promoviam a agilidade são responsáveis pelos cálculos que mensuram o isolamento[8], e ficar em casa torna-se uma medida de saúde pública. Porém, esta situação expõe uma contradição, como nos mostra Haesbaert[9].
"Paradoxalmente, quem diria, a grande desigualdade que move o sistema econômico revela-se agora com toda a sua crueza entre aqueles que podem ficar isolados, hipoteticamente 'imunizados' nos territórios-abrigo de suas casas, com condições econômicas para se manter aí, e aqueles que, sem a garantia de seus territórios-recurso, são obrigados a atravessar a cidade para assegurar a alimentação, a saúde, a limpeza ou a segurança para toda a população."[10]
Dito de outra forma, ficar em casa isolado e abrigado significa salvar a própria vida e a dos outros, ou seja, "estar parado" é a medida mais eficaz para evitarmos o aumento dos casos de COVID-19 no planeta, mas também é privilégio daqueles que no passado viviam a ágil velocidade global. Estar em casa é para a parcela da população que com seu capital acumulado garante a vida cotidiana ou para aqueles que, com as possibilidades do trabalho em "home office", podem ficar protegidos. Assim, ficar em casa é privilégio daqueles que no cenário anterior à COVID-19 eram justamente os mais móveis da globalização.
A maior parte do movimento das cidades diante da pandemia acontece pelos "homens lentos", seja em suas bicicletas para os serviços de delivery ou lotando os ônibus rumo aos seus trabalhos, como serviços de limpeza (seja em áreas essenciais, como hospitais, ou em casa de famílias "rápidas" resguardadas em seus domicílios) ou para os mais diversos trabalhos autônomos, geralmente precarizados.
Os "homens lentos" do passado manifestavam sua exclusão do sistema sendo aqueles que não tinha acessos às velocidades do mercado e com menores possibilidades de renda, mas hoje estes "lentos" são aqueles que demonstram sua exclusão movimentando-se cotidianamente nas ruas pela sobrevivência. São estes que fluem atualmente nas grandes cidades. Os "homens lentos" tornaram-se os mais rápidos na pandemia expondo novamente a contradição do capitalismo global.
Garantir a sobrevivência significa buscar os recursos e se arriscar na mobilidade em tempos onde ficar em casa seria mais saudável. Reflete a ausência de um serviço de proteção social eficaz e também expõe uma face cruel da mundialização que, diante das incertezas apresentadas num contexto de pandemia, obriga os marginalizados do processo da globalização a se submeterem não apenas a piores condições de trabalho, mas também aos riscos à saúde aos que os mais "ágeis" estão menos expostos, pois conseguem a imunidade da vida domiciliar.
Em um cenário nunca vislumbrado por Milton Santos, podemos afirmar que, à sua maneira, os "homens lentos" finalmente ganharam fluidez e mobilidade, mas infelizmente num contexto onde o que existe de mais cruel é ser obrigado a se movimentar na rua para garantir a sobrevivência.
Fábio Bacchiegga é pós-doutorando do Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP).
Os artigos publicados na série Mobilidade Humana e Coronavírus não traduzem necessariamente a opinião do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. A disponibilização de textos autorais faz parte do nosso comprometimento com a abertura ao debate e a construção de diálogos referentes ao fenômeno migratório na contemporaneidade.
Referências bibliográficas
[1] IANNI, Octávio. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1995.
[2] SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro. Record, 2001.
[3] SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional. São Paulo. Hucitec, 1994.
[4] ______________. O Espaço do Cidadão. São Paulo, Nobel, 2000.
[5] Dados disponíveis em https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/informalidade-atinge-recorde-em-19-estados-e-no-df-diz-ibge.shtml. Acessado em 26/04/20.
[6] Dados disponíveis em https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/28/desemprego-fica-em-112percent-em-janeiro-e-atinge-119-milhoes-diz-ibge.ghtml. Acessado em 26/04/20.
[7] Convém frisar que Milton Santos (2000), apesar da crítica social, vislumbrava uma perspectiva otimista da ação dos homens lentos que, com sua capacidade de interagir com o espaço local, criariam uma nova solidariedade ou exercitariam uma nova política contra o domínio hegemônica da ágil velocidade do mercado global.
[8] Informação disponível em https://exame.abril.com.br/tecnologia/o-governo-pode-usar-dados-do-celular-para-monitorar-seu-isolamento/. Acessado em 25/03/20.
[9] HAESBAERT, Rogério. Desterritorialização sem Limites: reflexões geográficas em tempos de pandemia (I) Boletim ANPOCS, n. 17, 2020. Disponível em http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2330-boletim-n-17-desterritorializacao-sem-limites-reflexoes-geograficas-em-tempos-de-pandemia.
[10] Haesbaert utiliza aqui as expressões de Jean Gottmann sobre territórios-abrigo, como área de domicílio e segurança, e territórios-recurso, que seria o espaço como meio de exploração e reprodução da sobrevivência e da vida matéria. Para saber mais, sugerimos a leitura do texto de Gottmann disponível em português em http://agbcampinas.com.br/bcg/index.php/boletim-campineiro/article/view/86.
Foto da chamada: Entregadores de aplicativos esperando na calçada. Crédito: Leonardo Cassano. | Conta com tarja preta, no canto inferior esquerdo, escrito Ocupação "Cientistas sociais e o Coronavírus" em branco.
A ocupação "Cientistas sociais e o Coronavírus" é uma iniciativa que surgiu da parceria entre Museu da Imigração e Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) para divulgação de artigos selecionados do boletim homônimo, iniciado em março de 2020. Os textos podem ser consultados, também, em formato de ebook. Dando continuidade à proposta desenvolvida na série "Mobilidade Humana e Coronavírus", seguiremos debatendo e refletindo sobre os impactos da pandemia para as migrações e demais mobilidades.